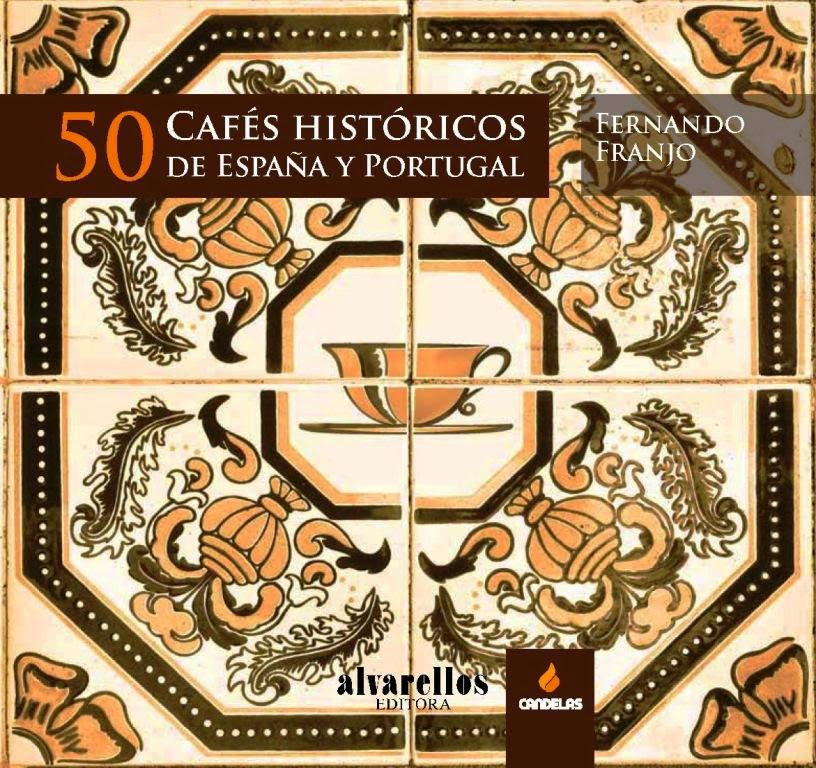«Ajatashatru apprit alors que si Wiraj avait quitté son pays, ce n’était pas pour un motif aussi trivial que celui d’aller acheter un lit dans un célèbre magasin de meubles. Le Soudanais avait laissé les siens pour tenter sa chance dans les “beaux pays” comme il se plaisait à les appeler. Car sa seule faute avait été de naître du mauvais côté de la Méditerranée, là où la misère et la faim avaient germé un beau jour comme deux maladies jumelles, pourrissant et détruisant tout sur leur passage.»
Romain Puértolas, L'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté dans une armoire IKEA (2013)
Há certos textos que vêm ter connosco sem nós chamarmos por eles. Foi o que me aconteceu com o composto por Romain Puértolas com o título quilométrico d’A incrível viagem do faquir que ficou fechado num armário Ikea (2013). Os ecos dos séculos dourados do barroco peninsular a pairarem no horizonte e a acenarem à distância. A liberdade de escolher um livro sem a ajuda de agentes estranhos a ser cutucada pela ingerência atrevida dum acaso intrometido ainda que feliz. Imperativos académicos de percurso difíceis de evitar a forçarem um encontro imediato de terceiro grau pouco espectável numa situação dita normal. Nestas ocasiões específicas, o melhor é juntar o útil ao agradável e deixarmo-nos levar tranquilamente pelo prazer da leitura. Foi isso mesmo que fiz.
Vistas bem as coisas, a ficção até começa antes de iniciarmos as aventuras de Ajatashatru Larash Patel, o faquir rajastanês metamorfoseado em escritor de sucesso inesperado, aquele que depois de ter viajado num armário Ikea de Paris para Folkestone e numa mala Vuitton de Barcelona para Roma, depois de ter feito um voo low cost da Índia para França e de ter transposto o canal da Mancha numa camioneta de mudanças da megastore sueca, depois de ter fugido de balão da Itália e de ter chegado à Líbia pós-Kadhafi de barco, acaba por ir ao encontro da bela-amada com rosto de porcelana na cidade luz, agora num normalíssimo voo em classe turística e com a carteira recheada de euros ganhos com a escrita dum mais que garantido bestseller internacional.
Antes dessa extraordinária peregrinação rocambolesca, a badana esquerda do livro impresso já nos está a dar conta da vida fantasiosa do autor. Uma vocação de cabeleiro-trompetista gorada pela força do destino a obrigá-lo a passar sem sossego de DJ e compositor-interprete a professor de línguas e tradutor-intérprete, de se deslocar entre França-Espanha-Inglaterra como comissário de bordo ou a tentar a sorte como mágico ou cortador de mulheres num circo austríaco. Fixa-se na escrita compulsiva, confessando sem falsas modéstias ter composto 450 romances num ano, todos eles metodicamente arrumados numa estante Ikea. As fortunas e adversidades, atalaias da vida humana e exemplos de vagamundos e espelho de tacanhos, mescladas com a presença surpreendente de extraterrestres detentores duma inteligência fora do vulgar e de ter iniciado uma carreira de polícia, prosseguem a um ritmo alucinante, revelando-nos o itinerário típico dum potencial pícaro dos nossos dias, mas a negar de modo claro essa categoria genérica plena ao protagonista do relato por si congeminado.
Livro hilariante, o mais divertido do momento, para rir às gargalhadas do princípio ao fim, um conto, uma fábula, uma pérola de humor, inigualável, uma história genial, dizem os críticos oficiais convoca-dos para tecer os juízos de valor convencionais, criteriosamente selecionados pelos editores para preencher a badana direita do bestseller traduzido para 30 línguas repartidas pelos quatro cantos da terra. Faça-se-lhes justiça neste caso particular, dado que todos eles destacam, também, tratar-se duma sátira mordaz ao mundo moderno, um autêntico conto de fadas que convida à tolerância entre os povos que vivem dos dois lados do Mediterrâneo, o certo e o errado. Referem ainda tratar-se duma reflexão sobre o destino dos imigrantes clandestinos, aqueles que se fazem ao mar para pisar o paraíso prometido dos países ricos e que depressa se revela um atalho infalível para o inferno.
O percurso de vida seguido pelo faquir indiano que partiu à procura duma cama de pregos a preço de saldo na loja Ikea mais próxima, empurrada para a distante capital francesa, pouco difere dos percursos de vida seguidos pelos peregrinos da fome castelhanos das centúrias de quinhentos e seiscentos. Partilham uma infância infeliz, pautada pela fome e pelos maus tratos, pelo estigma do nascimento e pela vontade de vencerem as contrariedades duma existência de anti-heróis forçados. Diferem no facto de o acumular de muitos amos, nomes e manhas ter alterado inexoravelmente a ingenuidade inicial castelhana dos Lazarillos-Guzmanillos-Pablillos numa marginalidade pícara, incapazes de enveredar por uma contrição sincera, ter tido um efeito contrário no viajante coevo imaginado pelo fabulador gaulês. Na sua viagem iniciática de nove dias pelo interior de si mesmo, o especialista asiático em expedientes e truques de vão de escada envereda pela via da honestidade. Sente ao longo da sua itinerância forçada pelas rotas europeias cinco momentos cruciais que o convidaram a um arrependimento verdadeiro. Chama-lhes eletrochoques e associa-os à solidariedade que as pessoas podem sentir umas pelas outras e as podem transformar para melhor. Mais altruístas, mais desinteressadas, mais fraternas. Esta a lição a extrair deste relato realista e irónico de encarar a condição humana e de redimensionar o conceito tão maltratado de honra.



.jpg)