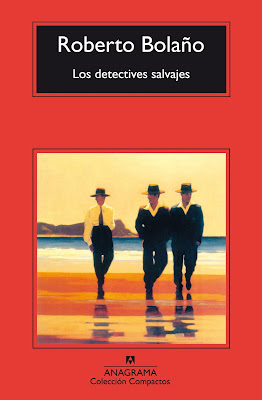«A good book is the precious life-blood of a master-spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life, and as such it must surely be a necessary commodity.»Penelope Fitzgerald, The Bookshop (1978)
Gosto de livros que falem de livros. Dos bons e dos maus. De livros acerca de livros. Se tratarem de livrarias e de bibliotecas ainda melhor. Das fixas e das itinerantes. A referência a arte, cultura e literatura, a editores e leitores, a escritores e pensadores, a autores conhecidos e desconhecidos, a obras marcantes ou discretas, só enriquece o meu gosto pela escrita a cheirar a tinta, propiciadora duma metalinguagem de palavras que se desdobram sobre si mesmas. Penelope Fitzgerald consegue tudo isto e muito mais n'A livraria (1978), romance de época a visitar a nossa, com toda aquela frescura que só os textos de eleição conseguem lograr.
O argumento é fácil de traçar. Florence Green, uma viúva de meia-idade, resolve abrir a primeira e única livraria numa vila costeira do East Suffolk. História banal se nos ficássemos pelas linhas gerais e omitíssemos as entrelinhas. Se nos esquecêssemos de situar a ação em Hardborough (lugarejo difícil), no ambiente provinciano e conservador inglês de meados do século passado, balizado pelo início de 1959 e finais de 1960. Dois anos inteiros para inaugurar, gerir e encerrar as portas da Livraria Old House na Higt Street duma aldeola fictícia, imaginada para criar ilusões de verídico. Nada mais, nada menos. O entusiasmo inicial esfuma-se e o desalento final instala-se. A luta sem tréguas entre exterminadores e exterminados ocupa os dez capítulos do relato distribuídos por centena e meia de páginas. Romance breve com um final triste lhe terá chamado aquela que lhe deu vida para deleite de todos nós, independentemente dos trilhos de percurso convocados.
O stock de títulos disponíveis no novo estabelecimento é proporcional à importância e interesses dos seus potenciais visitantes. Predomi-nam os títulos de obras utilitárias ou de escoamento fácil, tais como os guias técnicos ou sobre a realeza e o SAS (Special Air Service), arrumados de acordo com a sua própria hierarquia social. Cada cor seu paladar. De ficção pura e dura é que haveria pouca ou nenhuma escolha nas prateleiras oferecidas ao público. A exceção é preen-chida com as notícias pormenorizadas da consulta de informações, encomenda dum lote de 250 exemplares e lançamento ousado duma edição da Lolita, de Vladimir Nabokov, publicada em 1955 e alvo das mais desencontradas críticas sobre o seu verdadeiro valor literário. O sucesso da iniciativa foi enorme os lucros da venda escrupulosamente anotados nos livros de deve e haver e de histórias contadas. Só na primeira semana, a caixa registou 82 libras, 10 xelins e 6 dinheiros, o que à data seria uma conta calada considerável. A sensação de prosperidade sentida pela retalhista é fugaz. A frente unida pela moral e bons costumes não deixaria de aproveitar esse incidente para pôr o tal ponto final no projeto.
O poder político de Mistress Gamart, proprietária da influente mansão The Stead (O lugar), leva a melhor sobre o estatuto aristocrático de Mr. Brundish, proprietário da secular Holt House (Casa do Bosque | Covil da Fera), e o mundo dos livros, dos sonhos e das vicissitudes da vida numa livraria de aldeia encontra o seu ponto sem retorno ou desfecho que a protagonista a todo o custo tentou evitar. Na velha casa com meio milénio de existência só ficou o inofensivo poltergeist residente, a que os locais se habituaram a chamar de rapper por se manifestar ruidosamente na casa de banho e no corredor do piso de cima. Sobre a concretização do intento de transformar o velho edifício de interesse público num Centro Cultural na povoação nada é dito no relato. É tratado como um não-assunto que a autora deixou em aberto à imaginação dos leitores. É que uma terra sem uma livraria é uma terra que não merece a pena ser referida nas páginas dum livro. É uma terra onde dificilmente se poderá falar de cultura.
O argumento é fácil de traçar. Florence Green, uma viúva de meia-idade, resolve abrir a primeira e única livraria numa vila costeira do East Suffolk. História banal se nos ficássemos pelas linhas gerais e omitíssemos as entrelinhas. Se nos esquecêssemos de situar a ação em Hardborough (lugarejo difícil), no ambiente provinciano e conservador inglês de meados do século passado, balizado pelo início de 1959 e finais de 1960. Dois anos inteiros para inaugurar, gerir e encerrar as portas da Livraria Old House na Higt Street duma aldeola fictícia, imaginada para criar ilusões de verídico. Nada mais, nada menos. O entusiasmo inicial esfuma-se e o desalento final instala-se. A luta sem tréguas entre exterminadores e exterminados ocupa os dez capítulos do relato distribuídos por centena e meia de páginas. Romance breve com um final triste lhe terá chamado aquela que lhe deu vida para deleite de todos nós, independentemente dos trilhos de percurso convocados.
O stock de títulos disponíveis no novo estabelecimento é proporcional à importância e interesses dos seus potenciais visitantes. Predomi-nam os títulos de obras utilitárias ou de escoamento fácil, tais como os guias técnicos ou sobre a realeza e o SAS (Special Air Service), arrumados de acordo com a sua própria hierarquia social. Cada cor seu paladar. De ficção pura e dura é que haveria pouca ou nenhuma escolha nas prateleiras oferecidas ao público. A exceção é preen-chida com as notícias pormenorizadas da consulta de informações, encomenda dum lote de 250 exemplares e lançamento ousado duma edição da Lolita, de Vladimir Nabokov, publicada em 1955 e alvo das mais desencontradas críticas sobre o seu verdadeiro valor literário. O sucesso da iniciativa foi enorme os lucros da venda escrupulosamente anotados nos livros de deve e haver e de histórias contadas. Só na primeira semana, a caixa registou 82 libras, 10 xelins e 6 dinheiros, o que à data seria uma conta calada considerável. A sensação de prosperidade sentida pela retalhista é fugaz. A frente unida pela moral e bons costumes não deixaria de aproveitar esse incidente para pôr o tal ponto final no projeto.
O poder político de Mistress Gamart, proprietária da influente mansão The Stead (O lugar), leva a melhor sobre o estatuto aristocrático de Mr. Brundish, proprietário da secular Holt House (Casa do Bosque | Covil da Fera), e o mundo dos livros, dos sonhos e das vicissitudes da vida numa livraria de aldeia encontra o seu ponto sem retorno ou desfecho que a protagonista a todo o custo tentou evitar. Na velha casa com meio milénio de existência só ficou o inofensivo poltergeist residente, a que os locais se habituaram a chamar de rapper por se manifestar ruidosamente na casa de banho e no corredor do piso de cima. Sobre a concretização do intento de transformar o velho edifício de interesse público num Centro Cultural na povoação nada é dito no relato. É tratado como um não-assunto que a autora deixou em aberto à imaginação dos leitores. É que uma terra sem uma livraria é uma terra que não merece a pena ser referida nas páginas dum livro. É uma terra onde dificilmente se poderá falar de cultura.