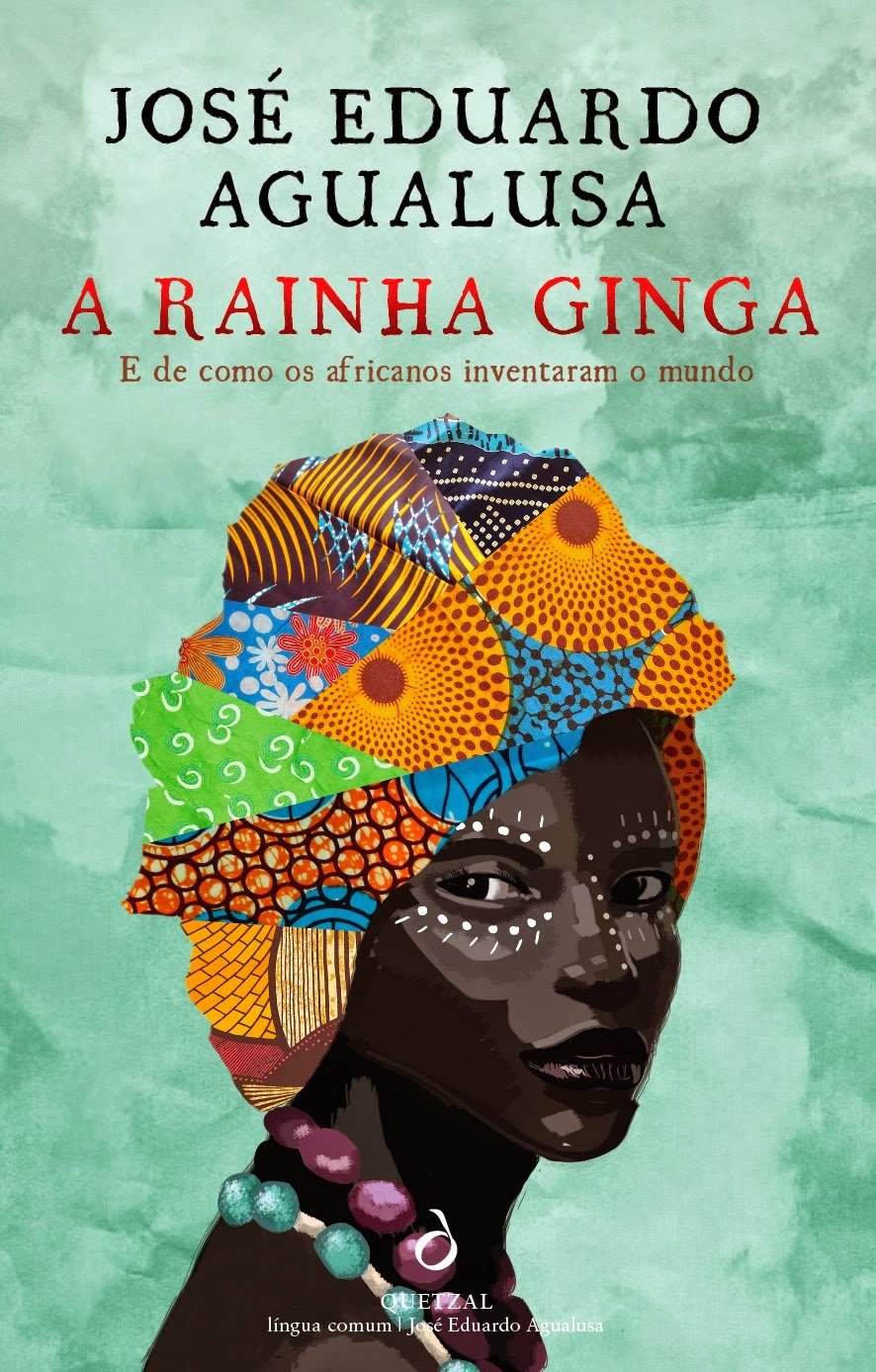Este não é um livro que pretenda liberalizar os doces para as pes-soas com diabetes. Procura, sim, tentar enquadrar, num dos muitos sentidos possíveis. a relação que existe na sociedade com os do-ces. E apresenta algumas sugestões possíveis, a enquadrar nas op-ções de cada um, de doces inspirados nos quadros de Josefa de Óbidos e com ingredientes que os tornam mais apropriados para as pessoas com diabetes. Os adoçantes ou edulcorantes artificiais po-dem ser utilizados para adoçar uma sobremesa uma vez que o seu valor calórico é quase nulo e não têm interferência no metabolismo dos hidratos de carbono. A utilização de outros ingredientes permite reduzir a sua quantidade, que deve ser moderada.
Francisco Sobral do Rosário,Josefa de Óbidos na cozinha da diabetes (2013)
Dizem as más línguas que somos o povo mais guloso do mundo. Para completar a ideia, também se diz termos concebido a doçaria mais rica e variada que se conhece. Exageros à parte, não restam dúvidas que estamos na presença dum gosto refinado e generalizado pelo açúcar e por todas as substâncias que lhe estão associadas. Mel, chocolate, bolos, compotas e marmeladas. É que, como reza o ditado, o que é doce nunca amargou.
Francisco Sobral do Rosário, médico especialista em endocrinologia e contador de histórias nos tempos livres, convidou uma série de amigos interessados pela temática e reuniu os seus testemunhos nas páginas d' As pinturas de Josefa de Óbidos na cozinha da diabetes (2013). Centraram-se nos percursos de vida de duas mulheres exemplares separadas por três séculos e meio de dias cumpridos e deram asas à imaginação fabuladora.
A primeira é nossa contemporânea e dá pelo nome sugestivo de D. Maria dos Prazeres. Declarada diabética em 1926, desenvolveu desde então um ódio irracional aos doces, transformando-se numa referência lendária na luta contra esse flagelo de saúde pública. Solteira por vocação ou militância, guardava em si um segredo que só um acaso tornou público. Era uma autora reconhecida de livros ilustrados de doçaria, modo de superar a gula com os olhos.
Miguel Real continua a parábola com a revelação de que a lendária senhora da história se inspiraria nas telas de doçaria pintadas por Josepha d'Ayalla (1630-1684) na pacata vila de Óbidos. A variedade e poder atrativo dessa arte pantagruélica continuavam a fazê-la salivar abundantemente, sem nunca ter tido o prazer de provar nenhuma das iguarias apelativas representadas a óleo pela grande criadora que empresta o nome à obra.
O livro de histórias conta ainda com um prefácio pedagógico de Bob Andersen e uma leitura metafórica de Raquel Henriques da Silva. A concluir, José Bento dos Santos inspira-se nas naturezas mortas da artista plástica seiscentista e transforma-as em autênticas naturezas vivas. Fá-lo através de dezena e meia de receitas ilustradas sem açúcar. Papos-de-anjo, barrigas-de-freira, toucinho-do-céu. Divinas, sublimes, celestiais. De comer e chorar por mais.