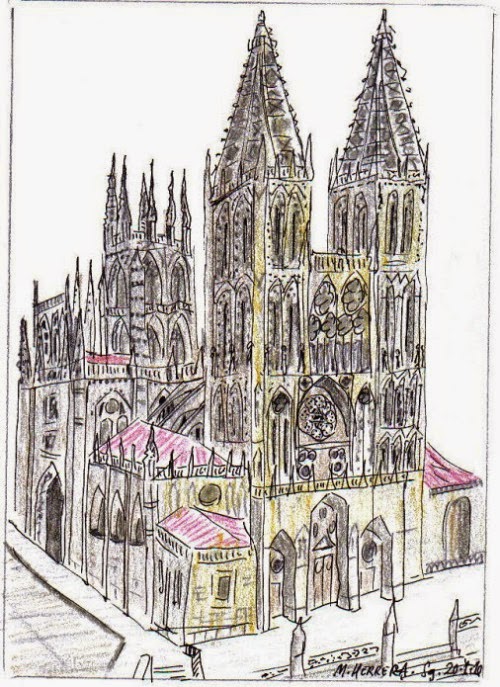«All errata is a falsehood final.»
George Steiner, Proofs And Three Parables (1992)
A forma peculiar como George Steiner aborda a questão da nossa identidade cultural, em A ideia de Europa (2005), convidou-me a mergulhar na restante obra do autor que até então ignorava. O prazer tem vindo a crescer à medida que os títulos se sucedem. Mesmo quando o universo do ensaio deu lugar ao da ficção. Comecei com Provas e três parábolas (2008). Voltei a render-me ao fascínio do mestre. Incondicionalmente.Trata-se dum grupo de quatro textos que já haviam conhecido uma publicação autónoma: Provas (1991), Desert Island Discs (1986), Noël, Noël (1989) e Excerto de uma conversa (1985).
O relato inicial apresenta-nos um revisor de provas italiano, cujo rigor profissional, de mais de trinta e cinco anos, convertera num mestre do ofício. Ignoramos o seu nome ou a cidade onde vive. Só sabemos que a militância comunista de décadas lhe granjeara o título de Professore. A história fictícia da personagem acaba por se demudar na história verdadeira de pessoas reais, de carne e osso, que a memória dos homens esqueceu. A queda do Muro de Berlim, difundida pela televisão, vai gerar um longo diálogo entre protagonista e um sacerdote católico sobre os erros e mentiras do marxismo e do cristianismo, cometidos pelas leis dos homens e de Deus. O resultado do debate é inconclusivo. Terá de ser o leitor a exercer o privilégio de decidir quais os atores mais adequados para promover uma eficaz revisão de provas da história.
A primeira parábola deve o título ao programa homónimo da BBC, que desde 1941 pede a figuras conhecidos sugestões de livros e discos a levar para uma ilha deserta. A entidade convocada pela ficção solicita seis registos, a que o arquivo sonoro da estação de rádio consegue responder. O arroto de Fortimbras (Shakespeare, Hamlet); o relincho do cavalo do rei de Tebas ao ver o amo morto (Sófocles, Rei Édipo); o rangido do aparo de Clausius ao concluir a equação da entropia; o riso da amada ao ser beijada; o Trio em Fá Maior para trompa, contrabaixo e conchas de Samatra, de Sigbert Weimerschlund, gravado por Zeppo, Harpo e Chico (Marx Brothers); e o assobio do jovem pintado pelo mestre da Paixão de Chambéry. E é tudo. Mais uma vez, cabe-nos a nós proceder às pesquisas necessárias para determinar até que ponto esses pedidos podiam ter sido guardados na memória de alguém.
A parábola seguinte expande-se em torno dos sons e cheiros que tornam o Natal uma época tão especial. O assunto acabaria aqui se não se desse o caso de ser contado por um pedaço de bicho tristonho, o Caça-Ratos / Pé Ligeiro, o cão de estimação daquela família feliz formada pelo pai, pela mãe e pela filha Penny. Trata-se, afinal, duma inesperada fábula.
A série termina com o excerto de uma conversa travada entre dois estudiosos do Talmude. Mestre e discípulo discutem o problema do livre-arbítrio do Homem face à presciência de Deus, focado no drama de Abraão de sacrificar Isaac ou na vanidade do Todo Poderoso testar a fé do seu humilde servo. A diferença fulcral entre os crentes da Torah e dos Evangelhos reside, talvez, no facto do Deus de Moisés não se ter coibido de matar todos os primogénitos do Egito para garantir o êxodo do povo eleito para a terra santa, ao invés do Deus do Nazareno que ofereceu a vida do filho unigénito em sacrifício à cruz romana para salvar a humanidade.
Ancorados em esferas aparentemente distintas, os quatro pilares da coletânea acabam por conectar as matrizes culturais que enformaram a ideia de Europa. Duas frases escritas numa paragem de autocarro atraem a atenção do corretor de provas: Deus não acredita em Deus e Deus não acredita no nosso Deus. Sinais dos tempos. Diremos nós. Na última parábola, uma mulher, pesarosa com o silêncio a que os livros sagrados votaram o drama de Sara, interroga os cabalistas sobre as sílabas que revelam o nome secreto de Deus e nos farão a todos livres. Boa questão à espera de resposta. Todavia, o nome dos nomes encontra-se guardado desde sempre no livro dos livros. Na nossa imaginação divinamente humana ou humanamente divina. É tudo uma questão de perspetiva ou de sensibilidade pessoal.
NOTA
Tornei público este texto no Pátio de Letras já lá vão mais de cinco anos, sem ter suscitado então qualquer reação nos inúmeros visitantes do blogue. Volto a dar-lhe visibilidade neste espaço de histórias contadas em tom coloquial, porque continuo a considerar George Steiner um dos grandes mestres da nossa cultura contemporânea. Segue com uma ou outra alteração de pormenor para tornar a forma mais atual...