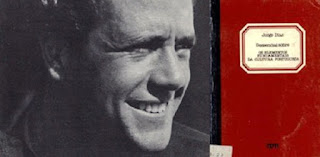Na natureza, um rio inicia sempre o seu curso numa nascente e corre depois a maior ou menor velocidade para a foz. Tudo começa, regra geral, no alto duma montanha e termina invariavelmente numa zona baixa junto ao mar. Entre o partir e o chegar, vai ganhando caudal com os eventuais afluentes encontrados no caminho. Na literatura, os chamados romans fleuve também traçam percursos semelhantes, sobretudo naqueles em que se traça com todo o vagar disponível do mundo o nascimento-vida-morte duma personagem ou dum conjunto delas, ligadas entre si por um qualquer tipo de amizade, rivalidade ou camaradagem, em que os laços de sangue por vezes presentes desempenham um papel muito variado.
É o que se passa, de certo modo, com as duas amigas retratadas por Elena Ferrante na Tetralogia Napolitana. O grande rio narrativo formado pelos itinerários de Lila Cerrullo e de Lena Greco encontra no seu trajeto uma ou várias ilhas de permeio que o subdivide em dois braços discursivos autónomos, repartidos alternadamente por diversos capítulos. Tanto o caudal central como os laterais recebem outros riachos menores, constituídos pelas vidas individuais/coletivas dos vários núcleos familiares presentes na saga. Rios e afluentes surgem devagar na «infância» e «adolescência» das heroínas [vol. i], ampliam-se na «juventude» [vol. ii], particularizam-se no «tempo intermédio» [vol. iii] e caminham a passos largos para a «maturidade» e «velhice» [vol. iv]. Esse destino final, porém, só o conheceremos quando abrirmos a etapa final da saga, aquela em que a morte talvez visite uma das figuras nucleares, que só pode a da narrada, já que a narratária se terá de manter viva para manter a coerência realista até então seguida sem a atraiçoar.
Fiquemos, entretanto, na História de quem vai e de quem fica (2013), i.e., na história paralela da narradora-protagonista, que se mudou para Florença depois de casada, e na história da deuteragonista-narrada, que ficou em Nápoles nesta terceira fase da série. As suspeitas de se tratar duma espécie de autobiografia da autora avolumam-se a cada passo, ínvias de aferir, por se ignorar a sua identidade. Esta não ousa revelar as suas coordenadas pessoais, talvez por temer um confronto com os nomes/apelidos dados às personagens maiores/menores da ficção por si urdida, aquelas que, por definição, tanto lhes faria serem chamados dum modo ou doutro. Tão pouco se fica a saber de ciência segura em que bairro da periferia napolitano situou o núcleo central da ação. Dizem tratar-se de Rione Luzzatti, um subúrbio pouco turístico que não me recordo de ver referido no livro. Lapso meu, por certo, ou fantasia de alguns visitantes da cidade, prováveis exploradores do tal túnel-fronteira que o isolará decisivamente da restante teia urbana.



.jpg)